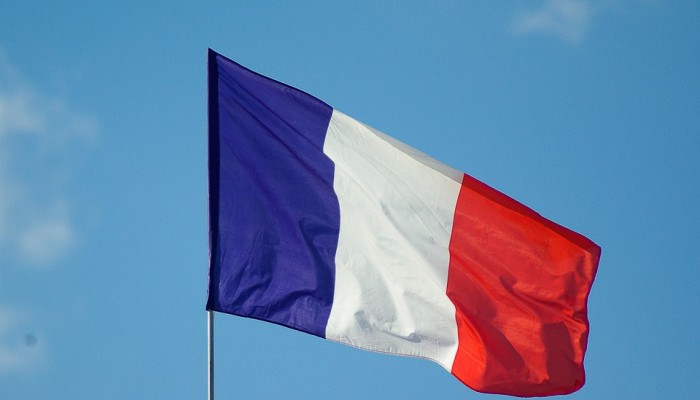O acordo histórico entre o Partido Socialista e os demais partidos da esquerda parlamentar funda, inequivocamente, uma nova maioria. A partir daqui, a escolha que se coloca ao Presidente é simples: respeitar o Parlamento ou confrontá-lo. Fosse ele um verdadeiro institucionalista e não hesitaria tanto.
Vai para aí uma acesa discussão, um tanto equivocada, sobre as pretensas “opções” ao dispor do Presidente, como se a Constituição lhe permitisse agora duas alternativas igualmente válidas: nomear um novo primeiro-ministro capaz de constituir um Governo viável no actual quadro parlamentar (necessariamente António Costa, já que qualquer outra solução, dita de “iniciativa presidencial”, teria no Parlamento o mesmo destino que teve o Governo de Passos Coelho) ou deixar o actual Governo PSD-CDS em funções de gestão corrente, pelo menos por mais seis meses, remetendo para o seu sucessor a bela herança de uma tremenda trapalhada institucional, com o país em alvoroço e inimagináveis consequências económicas e financeiras.
É falso que estas duas “alternativas” estejam igualmente disponíveis no plano constitucional. Os chamados “governos de gestão” não são, ao contrário do que se pretende fazer crer, uma “forma alternativa de governo” que possa resultar de uma escolha política. Ninguém “escolhe” ter governos de gestão: os governos é que podem ficar reduzidos à condição de meros “governos de gestão” uma vez verificadas determinadas circunstâncias, designadamente no período antes da apreciação do seu programa e no período após a sua demissão (incluindo em resultado da rejeição do programa do Governo). Em qualquer dos casos, trata-se sempre de uma situação transitória, destinada a garantir “a prática dos actos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos” enquanto não está disponível outra solução política, ou seja, até à tomada de posse de um novo Executivo (com ou sem prévia dissolução da Assembleia da República e realização de novas eleições). Neste caso, porém, não se justifica prolongar a situação: não só está imediatamente disponível uma outra solução política maioritária no actual quadro parlamentar, como o Presidente está constitucionalmente impedido de a recusar abrindo caminho à única verdadeira alternativa política teoricamente admissível: dissolver a Assembleia e convocar novas eleições. Assim sendo, a permanência do Governo em gestão, estando necessariamente desligada da solução política para o impasse (visto que o Presidente não possui o poder de dissolução) significaria não uma inevitabilidade transitória mas uma verdadeira escolha política - constitucionalmente inadmissível.
E não é por acaso que a Constituição proíbe o Presidente de dissolver a Assembleia nos primeiros seis meses a seguir às eleições legislativas: essa proibição destina-se a garantir o respeito pela legitimidade representativa do Parlamento acabado de eleger. Do ponto de vista dos partidos, a impossibilidade de dissolução serve de estímulo à procura de entendimentos e soluções governativas viáveis, explorando todas as potencialidades do novo quadro parlamentar e evitando a inconveniente sucessão de actos eleitorais. Do ponto de vista do Presidente, porém, o travão constitucional ao mais poderoso de todos os seus poderes - o poder de dissolução - cumpre um propósito de maior alcance: impedir que o Presidente da República se possa constituir como “força de bloqueio” da solução governativa gerada pelo novo Parlamento. Dito de outro modo, para que toda a gente entenda: é a Constituição que quer que o Presidente respeite a vontade do novo Parlamento na formação do Governo.
Nomear António Costa como primeiro-ministro ou deixar Passos Coelho em gestão por tempo indeterminado não são, por isso, duas opções igualmente admissíveis no plano constitucional: uma respeita o desenho constitucional do sistema de governo, outra ofende-o. Ao opor-se à vontade claramente expressa pelos partidos que formam maioria no Parlamento, o Presidente da República entraria numa tripla rota de colisão: com a Constituição, com o Parlamento e com a maioria dos portugueses. Sinceramente, não creio que o faça. Mas cada dia em que tarda a fazer o óbvio só prejudica o País.
Artigo de opinião publicado no Diário Económico de 13 de novembro e na sua edição online.